A música veio da pele preta. Isso não é achismo, e sim um fato. Não é necessário mais do que cinco minutos refletindo a respeito de tudo que se conhece por música para se constatar essa informação. Do rock de Jimi Hendrix, passando pelo soul de Stevie Wonder, o groove de James Brown à genialidade de Chevalier de Saint-George, o compositor que inspirou as obras de Mozart, o trajeto da música negra foi o que levou ao que conhecemos hoje e, de fato, chamamos de “música”.
Uma diversidade, tanto étnica quanto melódica, de ritmos que, ainda que sejam tão diversos entre si, se completam, mesmo em formato heterogêneo. Os batuques do congo são resistência de um período desumano, o funk chega ao asfalto em um grito pelo reconhecimento da própria identidade. Cotidianos que, tão distantes, são próximos, num DNA único que somente a mãe África foi capaz de criar.
O jazz é mais uma vertente, parida dos povos tímidos de Nova Orleans, reivindicada por uma elite que, mais tarde, seria totalmente mastigada e escarrada por uma futura Motown Records em Nova York. Daí para frente, com cinco irmãos de origem pobre, preta e testemunha de Jeová, a história da música passa pela revolução do século.
No entanto, não é necessário viajar tão longe para reconhecer que é a partir dos muros que se constroem para dividir as tribos que surge a beleza em um caos urbano. É exatamente essa a proposta que Jonathan Ferr, com sua onda urban jazz, traz para a cidade. Ferr é o garoto que desceu o Morro da Congonha, em Madureira (RJ), e blindou-se de qualquer estereótipo. Tão grande quanto sua própria música, com muita sutileza em suas criações, ele criou o conceito de “atravessar a cidade” que o levou a ser um músico ímpar em suas composições.

Destaque da última edição do Rock In Rio, o Palco Favela apresentou algo totalmente diferente do que se via nas outras edições do festival, que até os dias de hoje recebe críticas ignorantes de que “deveria ter permanecido no rock”. Mal sabem eles que, o jazz, também está presente nesse gênero, que é praticamente seu irmão.
Uma semana depois, Ferr divide palco com ninguém menos que Hermeto Pascoal no Festival Marien Calixte, em Vitória (ES). E apenas um detalhe: pai no jazz no Brasil, Pascoal é capaz de tirar música até mesmo de uma chaleira (e sim, tem uma chaleira como um dos instrumentos no palco – a música está em todo nosso redor). Ferr conta com uma equipe tão encorpada quanto, com trompetes que ecoam em alto e bom som, e dedos ágeis em seu próprio piano.
Muitas pessoas pensam que Brasil só é o samba, quando na realidade a gente já se tornou world music, temos referências do mundo todo, e somos atravessados por estas referências.
Inspirado por Miles Davis, mas sem nenhuma presunção, Jonathan Ferr é um artista em construção, com grande importância para o cenário atual, onde se fala tanto na sofrência e na massificação das produções musicais – ele é um ponto fora da curva, pouco lhe interessa as discussões um tanto ignorantes sobre “o que é a cultura brasileira”, muito menos a arrogância de quem vive no asfalto.
Apostando no afrofuturismo (movimento cultural iniciado nos anos 60, que mescla high-tech com a ancestralidade), o álbum de estreia do artista, “Trilogia do Amor”, é rápido como um raio, não somente em faixas (são apenas 7), mas na viagem sensorial que ela traz. “Luv Is The Way”, por exemplo, é uma composição de duas partes com um je ne sais quoi que a transforma em uma das peças mais instigantes do quebra-cabeça que é esse álbum, tão gostoso de montar. Outras faixas que podem ser consideradas highlights são “Borboletas” e “Sonhos” – que, inclusive, tem o tão famoso discurso de Martin Luther King, “I have a dream”, ovacionado entre as notas do piano de Ferr.
Em uma entrevista exclusiva para o ROCKNBOLD, Ferr discorre de forma bastante interessante suas influências que o permitiram chegar até onde está, e quais são os limites num cenário musical tão diverso (e impressionantemente exigente, principalmente com todas as plataformas digitais e a ânsia por novidades a todo tempo). Jonathan Ferr promete muita coisa nova para 2020, de novos singles a mais shows. Confira:
Primeiramente, queria te parabenizar pelos projetos que você está envolvido, porque é bastante coisa. Você já se apresentou no Rock In Rio, em diversos festivais de jazz e música pelo Brasil… E agora, o que vem pela frente?
Eu estou realmente muito feliz com o retorno rápido que minha música tem obtido, após o lançamento do meu álbum de estreia. Eu venho trabalhando neste projeto urban jazz, desde 2015 e aprimorando cada vez mais. Está sendo muito bom chegar nesses palcos e ocupar esses espaços com minha arte. Para 2020, vou lançar dois singles novos, o primeiro é o um love song chamado “Te Assistir Sorrir” , com participações dos rappers Choice e Nill Adotado e do beatmaker Lossio. Será a primeira faixa nessa vibe jazz com rap, que já venho fazendo nos shows. Também tem a faixa instrumental “Saturno” que é uma viagem bem psicodélica e cheia de groove.
Em 2020 eu também lançarei os dois curtas que completam a trilogia. O meu álbum, que é dividido em 3 capítulos. Para cada um deles eu planejei um curta. O primeiro se chama “A JORNADA” e já está disponível no youtube. Os próximos são “O Renascimento” e “A Revolução”. Tô compondo bastante e acredito que no segundo semestre de 2020 eu já entre em estúdio para começar a gravar o próximo trabalho. No mais, eu vou no flow do universo.
Você fala muito de trazer o urban jazz, atravessar a cidade. Levando em consideração que o cenário musical brasileiro está concentrado em músicas pop, massificadas pelas rádios e redes sociais, como você acha que as pessoas estão recebendo essa sua nova proposta musical?
Minhas referências são múltiplas. Acredito que por isso as pessoas se conectem bastante. Eu trago em minha música o hip-hop, o neo soul, a psicodelia da música eletrônica, o broken beats nos grooves, às vezes uma pegada mais rock nos solos, então isso acaba atraindo muitas pessoas de tribos diferentes, é um crossover de informações que são transmitidas através do jazz. E sempre ressalto que soa como uma música brasileira, mas fugindo do obviedade.
Muitas pessoas pensam que Brasil só é o samba, quando na realidade a gente já se tornou world music, temos referências do mundo todo, e somos atravessados por estas referências. Eu, por exemplo, ouço muito jazz de Israel, ouço músicas da Mongólia que eu amo, indianas, música chilena. Ou seja, sou atravessado por tudo isso, mas o fato de eu viver no Rio de Janeiro faz com que minha música soe com este sotaque. Creio que esse frescor musical atraia as pessoas, que vêm curiosas me descobrir e acabam gostando.
Como vivemos em um mercado de nicho, vejo que não importa o tipo de som que você faz, sempre há quem vai se conectar. Eu faço música com o coração e pra alimentar a minha alma, quem se conecta vai sentir, a massificação de outros músicas não interfere no que faço. Não gosto do discurso de “música boa” ou “música ruim”. Não acredito nessa fala que é muito soberba e cheia de preconceito, mas acho que cada música tem seu valor no mercado e o que dita o tempo de validade é a sua profundidade. Eu me empenho para cada vez fazer músicas mais profundas, persigo a ideia de fazer algo simples, mas nunca simplório.
Muito se fala no afrofuturismo atualmente, e você está sendo um dos precursores do jazz nesse aspecto. Como você enxerga a sua obra colaborando para esse movimento, e qual é a importância dele para você?
Quando eu fiz meu álbum, eu queria antes de tudo, me conectar comigo mesmo. Sentir a energia de cada canção que foi nascendo ao longo deste processo, baseado em minhas experiências místicas.
Daí, quando vejo que muitas pessoas têm se conectado, isso me deixa feliz, porque a mensagem do álbum é muito claro sobre amor, espiritualidade e política. E tudo dentro de uma esfera afrofuturista. A principal mensagem é mostrar que um jovem negro da periferia pode sonhar em fazer e ser o que quiser. Isso é o maior sentido do afrofuturismo para mim, jovens negros vivos, fazendo arte e sonhando com possibilidades reais de existir.
Estamos no fim de uma década, então não poderia deixar de perguntar: quais foram os artistas ou álbuns que você mais ouviu nos últimos dez anos?
Foram muitos. Os que eu mais escutei na primeira metade foram artistas de soul, neo soul e R&B, como Erikah Badu, Foreing Exchange, Zo!, Tall Black Guy, Musiq Soulchild, Jill Scott, Banda Black Rio, Carlos Dafé, Ed Motta.
Já a partir de 2015, meu mergulho foi muito profundo em jazz. Tudo que o pude ouvir, de vários lugares e várias épocas. Posso destacar John Coltrane, Thelonious Monk, Robert Glasper, Kamasi Washington, Hermeto Pascoal, Esperanza Spalding, Avishai Cohen, entre outros. Além dos brasileiros, Xênia França, Fabriccio, Youn, Tássia Reis, Amaro Freitas. Foi uma década incrível.
E como você vê o futuro da música para a próxima década?
Acredito que será uma década bem produtiva e criativa para todo mundo que estiver comprometido em fazer mais do entreter. Acho que cada vez mais artistas têm pensado sobre a questão de usar sua arte para conectar, mais do que entreter. Acredito que pensando em música, nunca se terá uma produção tão sólida, profunda e marcante, principalmente na música brasileira.
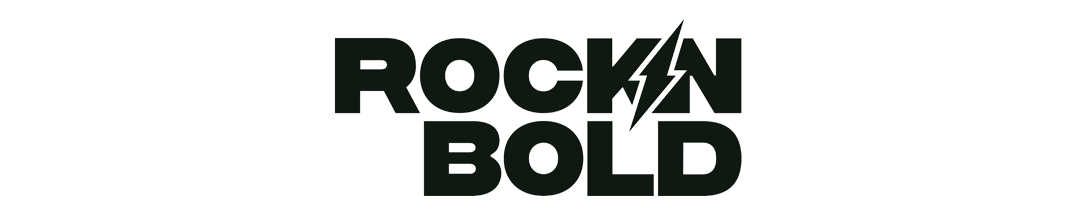






![[ANÁLISE] Billie Eilish, a rockstar da geração Z](https://rocknbold.com/wp-content/uploads/2020/01/billie-eilish.jpg)


