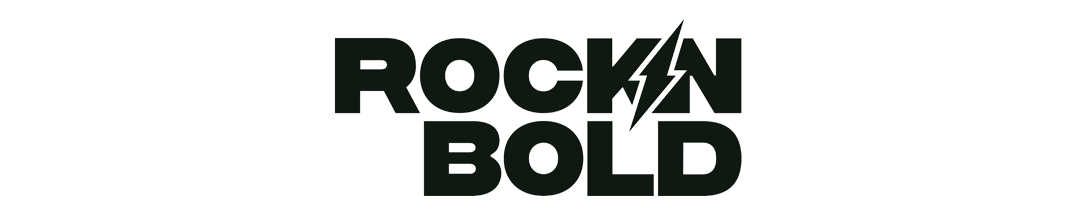Texto enviado por Maria Carolina Ferreira. Conheça a autora nas redes sociais: Twitter & Instagram
Em novembro de 2019, durante uma pacata segunda-feira de clima escaldante na cidade de São Paulo, o mundinho indie brasileiro subitamente entrou em pólvora. Naquele mesmo dia, o Popload Festival, de curadoria do jornalista Lúcio Ribeiro, liberou a escalação de horários para sua sétima edição. A divulgação do cronograma de atrações não chegava a ser uma surpresa para qualquer um que estivesse acompanhando os trâmites do evento. Na época, faltava pouco mais de uma semana e meia para a realização de um dos maiores festivais do país, previsto para acontecer durante o feriado de Proclamação da República na Praça Cívica do Memorial da América Latina, o mesmo espaço que abriga a famosa “mão sangrando” de Oscar Niemeyer, para melhor efeito de localização. No entanto, a partir da liberação dos horários, formou-se um burburinho desconfortável no meio de fãs de música alternativa que estariam presentes no evento. Era quase um consenso de que naquela programação havia algo de muito errado. E de muito errado mesmo.
Fato é que o Popload Festival de 2019 já não estava tendo grande receptividade por parte do público. Diferentemente do ano anterior, que havia trazido nomes de peso como Lorde, queridinha do público indie pop, e as bandas veteranas estreantes em solo brasileiro, Blondie e Death Cab For Cutie, o novo line-up não tinha lá muitos artistas que seriam capazes de arrastar multidões em pleno feriado. Lúcio e companhia haviam conseguido atrações ilustres, é claro. Impossível não apontar a escalação da lenda punk Patti Smith e do The Raconteurs, encabeçado pelo popularíssimo Jack White, mas aquilo não pareceu ser o suficiente. O Popload bem que se esforçou, chamando artistas “de última hora”, como a cantora sueca Tove Lo e o grupo brasileiro Cansei de Ser Sexy — este último em um retorno aos palcos após seis anos de pausa, entrando na lista de atrações como substituto da banda estadunidense Beirut, que desistiu de sua vinda faltando dois meses para o evento. Com um line-up composto por dez atraçõe, contra sete no ano anterior, a produção do festival tentou vender a edição como o maior Popload já feito na história. Honestamente, não funcionou do jeito que se esperava.
A divisão de horários feita pela produção do Popload 2019 pode ser vista como uma síntese perfeita de boa parte dos problemas a serem observados naquela edição do festival: a primeira atração entraria ao palco quinze pras onze da manhã; a última, às dez e meia da noite. Em um período que estoura treze ou quatorze horas quase ininterruptas de shows, encontravam-se absurdos como artistas previstos para tocar por apenas quinze minutos, como o bloco carnavalesco baiano Ilê Aiyê, e artistas que subiriam ao palco após o headliner em um espaço exclusivo para as primeiras duas mil pessoas que conseguissem ingresso dentro do próprio festival: Boy Pablo, cantor norueguês com pegada lo-fi. Sobrou até para a própria Tove Lo: mesmo sendo uma das atrações mais esperadas por parte do público (a Lorde da edição, por assim dizer), a cantora foi renegada ao período de meio de tarde, tocando a partir das 14h45min em uma apresentação de aproximadamente uma hora. Nas redes sociais, fãs apresentaram opiniões divergentes sobre o fato: alguns reprovaram o pouco tempo de palco da artista; outros celebraram que poderiam ir embora do festival cedo, assim que o show de Tove acabasse.
Com tanta reclamação assim, era difícil acreditar que o festival pudesse ter um final feliz — lê-se, um final sem prejuízos, sobretudo financeiros, para a Time For Fun. No entanto, mesmo cambaleando, o Popload ainda estava vendendo: faltando duas semanas para o feriado da Proclamação, as redes sociais anunciavam que mais de 90% dos ingressos do evento já haviam sido comercializados. É inegável que as promoções contínuas tiveram um papel essencial para isso — a dois meses do festival, ingressos de 330 reais eram vendidos por 150, um desconto de quase 60% sobre o valor original —, e também é inegável a tentativa de “chantagem emocional” dos organizadores para obrigar o fã indeciso ou desesperado a comprar o ingresso na impulsividade. Mas fato é que, de aproximadamente 15 mil entradas, ao menos 13 mil aparentemente possuíam dono certo. Não se sabia quantos desses compradores realmente estariam presentes no dia; no entanto, isso já não era mais problema da produção do Popload.
Para qualquer um que observasse de fora, tendo o mínimo de conhecimento sobre festivais internacionais no Brasil, pareceria quase óbvia a tentativa de Lúcio Ribeiro em transformar o Popload numa versão minimalista do Lollapalooza, o maior festival indie “ame-ou-odeie” existente em solo brasileiro. Além de apresentarem propostas muito semelhantes no campo musical, ambos os eventos compartilham de outras características marcantes em comum: preços altos dentro e fora do festival, line-ups inconstantemente heterogêneos, horários amorfos e o contínuo descaso por fãs de alguns dos artistas presentes nos dois eventos. Mesmo assim, para ambos os casos, ingressos ainda estavam sendo vendidos aos milhares e pessoas ainda estavam se deslocando de todos os cantos da cidade — e até mesmo do país — só para poder curtir algumas horas, ou alguns dias de música ao vivo. Qual seria a explicação mais lógica para isso? Quais são os principais fatores que fazem dois festivais de gênero alternativo serem tão bem sucedidos, em suas devidas dimensões, apesar de todas as suas falhas sendo constantemente escancaradas? Afinal, por que tantas pessoas ainda gostam tanto desses festivais, mesmo em seus piores momentos?

Quando Perry Farrell, o grande idealizador do Lollapalooza, decidiu trazer sua galinha dos ovos de ouro para terras brasileiras, possivelmente foram poucos os que cogitaram a profunda revolução que o cenário de shows do país sofreria a partir daquele fatídico momento. Criado em 1991 como parte da turnê de despedida da banda Jane’s Addiction, integrada por Farrell, o evento lentamente, e persistentemente também, alcançou patamares invejáveis na cena alternativa mundial ao longo de quase três décadas. Originalmente, o Lolla (como é apelidado carinhosamente) era um festival-turnê, em moldes semelhantes aos falecidos Circuito Banco do Brasil e Warped Tour; durante seus primeiros anos de vida, o evento teve problemas para se estabelecer na cena, finalizando sua rodada de turnês anuais ininterruptas em 1997. O renascimento ocorreu em 2003, ainda no formato de turnê; no entanto, no ano seguinte, a baixa procura fez com que o festival fosse cancelado novamente. Em 2005, Farrell optou por deixar o Lollapalooza criar raízes na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, onde o evento finalmente se consolidou como parte de grande relevância da cultura alternativa do país. A primeira aposta internacional do festival se deu no Chile, em 2011; no ano seguinte, foi a vez do Brasil receber sua edição de estreia, com artistas de grande porte encabeçando a primeira edição, tais como Foo Fighters e Arctic Monkeys.
O Lollapalooza Brasil sofreu diversas alterações em suas dinâmicas com o passar dos anos. Do Jockey Club, o evento foi realocado para o Autódromo de Interlagos após duas edições. Junto à mudança de local veio a mudança de produtora: da Geo Eventos, passou para a já mencionada Time For Fun, uma das maiores empresas do ramo no país. Foram dois dias de festival em 2012, três dias em 2013, dois dias novamente entre os anos de 2014 e 2017, e, finalmente, três dias mais uma vez a partir de 2018. Alguns de seus principais patrocinadores nos dias atuais incluem a empresa multinacional Adidas, o banco Bradesco, e a montadora Chevrolet, dona do modelo de carro que deu nome para um evento gratuito organizado pelo festival em 2018 e 2019, o Lollapalooza Onix Day; além disso, os shows são transmitidos religiosamente ano após ano nos canais televisivos Multishow e BIS, ambos pertencentes ao imponente Grupo Globo. Em síntese, o Lollapalooza não é simplesmente um evento do mundo indie brasileiro; é o evento do mundo indie brasileiro.
Antes do festival chegar em solo canarinho, poucos espetáculos eram capazes de abrigar a grandeza e a diversidade musical que fãs ao redor do país tanto gostam de ver no Lollapalooza. O Rock in Rio, que realizou sua edição de retorno seis meses antes do lançamento do Lolla Brasil, poderia ser visto como um equivalente de peso; mas o eixo Rio-SP é separado por mais de 400 quilômetros de distância, e a maior parte das atrações do festival de Roberto Medina é considerada mainstream demais para o público alternativo. O mais próximo que algum festival conseguia chegar da vibe exigida por este público-alvo era o Planeta Terra, evento paulistano extinto em 2013, que abrigou diversos nomes de respeito do cenário indie: The Jesus and Mary Chain, Kaiser Chiefs, Sonic Youth, Phoenix, The Smashing Pumpkins, The Strokes, Interpol, Kings of Leon, Blur, Lana Del Rey, e a lista segue indefinidamente. Mas ainda faltava um quê a mais. E foi justamente o Lollapalooza que trouxe este quê, apresentando uma mescla perfeita de parte da grandiosidade do Rock in Rio com o melhor que o line-up do Planeta Terra poderia oferecer para seus espectadores. Com isso, nasceu um festival fadado ao sucesso.
Os anos seguintes foram cruciais para o Lollapalooza estabelecer seu nome como um dos principais eventos musicais no país. Algumas (e somente algumas mesmo) das principais atrações ao longo de oito edições incluem Metallica, Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers, New Order, Kendrick Lamar, The Killers, Muse, Arcade Fire e Imagine Dragons. O evento se tornou um point obrigatório para amantes de música, jovens de visual descolado e (sub)celebridades prontas para fisgar algumas notinhas genéricas em contas de fofoca do Instagram. À medida em que o festival subia de patamar no cenário nacional, subiam também os valores da entrada: em 2012, um Lolla Pass (a forma como o festival denomina um ingresso para todos os dias de festival) custava 500 reais; em 2020, o valor da mesma entrada já havia subido para 1.500 reais em preço de 1º lote, chegando à bagatela de 2.100 reais durante o 4º lote de vendas. Mesmo com o aumento expressivo de valores, o festival continuou a pleno vapor, alcançando a marca de 100 mil ingressos vendidos por dia de festival em diversas ocasiões.
Tudo ia relativamente bem para o Lollapalooza Brasil enquanto evento. Atrações ilustres, arrecadação milionária, mobilização no turismo paulistano e o patamar inquestionável de um must-go event para todo amante de música e todo amante de eventos icônicos. A produção do festival não tinha do que reclamar. No entanto, poucos dias após a realização da edição de 2018, uma bomba estourou no mundo alternativo: a partir de uma reportagem publicada pelo site The Intercept Brasil, o Lollapalooza se viu acusado de utilizar mão-de-obra mal-paga para construir a estrutura de seus palcos. A notícia pegou muitos entusiastas do festival de surpresa — afinal, tratava-se de um ingresso caro, praticamente inflacionado, para um evento onde indivíduos estariam se divertindo às custas de pessoas, muitas delas em situação de rua. em regimes pós-modernos de escravidão, trabalhando por doze horas seguidas em troca de um lanche e umas gorjetas que não seriam capazes de pagar mais do que dois ou três drinks alcoólicos dentro do evento. Parecia um motivo bom o suficiente para deixar de frequentar o festival, ou “cancelá-lo”, como dizem os jovens da internet, mas quase ninguém deixou de ir para o Lollapalooza no ano seguinte. A sexta-feira da edição, encabeçada por Arctic Monkeys — retornando ao festival após sete anos, e também em sua primeira passagem pelo Brasil desde 2014 —, levou quase 80 mil pessoas para o Autódromo de Interlagos. É um número aquém das expectativas do Lollapalooza, dada a já mencionada capacidade máxima de 100 mil espectadores por dia; no entanto, não deixa de ser uma quantidade capaz de lotar o Estádio do Morumbi e ainda obrigar cerca de 10 mil pessoas a ficarem de fora do festival, tudo isso em um dia útil.
No final, pessoas estavam trabalhando exaustivamente por horas a fio e a salários ínfimos somente para sustentar algumas horinhas de diversão da elite alternativa paulistana. Aquilo era absurdo, chocante — e mais, era desumano. Mas as denúncias pouco afetaram o festival. O Lollapalooza ainda conta com patrocinadores de peso, artistas de renome, e, principalmente, um público fiel, disposto a pagar quantias maiores do que salários de famílias em situação de vulnerabilidade por algumas horas de música ao vivo. É necessário refletir: por que tantas pessoas ainda insistem em dar palco para um evento que explora indivíduos de todos os jeitos, seja através do uso de uma mão-de-obra praticamente escrava, seja através de seus valores abusivos? No final, o Lollapalooza é mais do que um case de sucesso no mercado publicitário e no mercado musical: é uma esfinge contemporânea que dribla com sucesso análises maniqueístas e superficiais sobre a economia brasileira e a psique humana. E onde há um enigma, deve-se dizer que também existem hipóteses para sua resolução.
♦♦♦
Para tentar entender o fenômeno Lollapalooza e seus correlatos, é necessário compreender alguns dos fatores majoritários que compõem tanto as peculiaridades do festival quanto o mercado de música ao vivo do país. Considerando, a princípio, o âmbito financeiro, deve-se dizer que existem diversos motivos para que os ingressos de eventos culturais em solo brasileiro sejam tão caros. O principal deles, uma exclusividade das terras tupiniquins, é a aplicação (incorreta) da Lei 12.933/2013, conhecida popularmente como Lei da Meia-Entrada, que garante o direito de 50% de desconto do valor de espetáculos culturais para estudantes, jovens de baixa renda entre 15 e 29 anos, pessoas acima de 60 anos e pessoas com deficiência (em alguns casos, professores da rede pública de ensino também são beneficiados); no entanto, o que era para ser um privilégio previsto legalmente a um grupo específico acabou por se tornar uma grande perda para todos os frequentadores de eventos, beneficiários ou não, dada a forma como ocorreu a execução da Lei ao longo dos anos.
Ingressos que deveriam custar metade do preço atualmente equivalem ao valor completo da entrada, sem descontos; as inteiras, consequentemente, hoje correspondem ao valor do ingresso em dobro. Este fator, por si só, já faz com que a entrada cultural brasileira seja consideravelmente mais cara do que na maioria dos países, onde esta regra não é aplicada; por conta disso, muitos criticam a existência do benefício de meia-entrada, sugerindo a abolição como uma das alternativas para o reajuste do valor de ingressos, enquanto outros defendem a reestruturação completa dos modelos de precificação de espetáculos, cobrando medidas mais efetivas de órgãos públicos para uma aplicação mais regular e eficiente do benefício. Trazendo a questão para o cenário indie brasileiro, o Lollapalooza instituiu, em 2018, a meia-entrada social, em parceria com o Criança Esperança, onde uma doação à instituição dá direito a um desconto de 45% sobre o valor do ingresso, em uma tentativa de “poupar” um pouco o bolso do consumidor sem direito ao benefício. A prática trouxe uma série de críticas, tanto por parte da União Nacional dos Estudantes (UNE), que apontou a irregularidade da ação e abriu um processo contra a Time For Fun, como dos próprios frequentadores e não-frequentadores do evento, rapidamente munidos de uma série de piadas sobre a “Entrada Baixa Renda” de um salário mínimo oferecida pelo evento. Além da questão da meia-entrada, outros elementos entram na conta final dos valores de ingressos, como a cotação da moeda, cada vez mais desvalorizada perante o preço do dólar, e a cobrança de tributos governamentais. No entanto, deve-se dar destaque a um dos fatores mais geniais e sórdidos adotados com afinco pelo Lollapalooza em seu processo de precificação: a exclusividade das atrações que o festival escala ano após ano.
Fato é que poucos artistas indie têm público o suficiente para agendar concertos próprios no Brasil sem qualquer tipo de prejuízo, mesmo em casas de shows minúsculas, como Carioca Clubs e Cine Joias da vida. Por conta disso, festivais acabam se tornando a opção mais viável para que um artista relativamente desconhecido possa vir para o país. Em diversos casos, a opção mostra-se como um acerto: além de ser mais rentável, festivais como o Lollapalooza têm a capacidade de alavancar a popularidade de cantores e bandas pouco conhecidos em um determinado espaço. Grupos como Imagine Dragons e twenty one pilots, creditados como destaques de suas edições de estreia no festival (em 2014 e 2016, respectivamente), devem ao festival uma parcela do reconhecimento que possuem no país atualmente. Mais do que meras apresentações, festivais mostram-se como oportunidades de visibilidade, sobretudo em locais onde um artista ainda não conseguiu construir um público-base.
Para aqueles que são admiradores de um artista que só tem doze fãs ao redor do país, eventos como o Lollapalooza, por mais irônico que pareça, são quase como uma esperança. Muitos amantes da música alternativa, em algum momento dos últimos oito anos, se viram presos na dicotomia de ter um artista de estimação que não gostariam de ver de jeito nenhum na lista de atrações do festival — seja pensando no próprio bolso, na distância do evento para o lugar onde moram ou até mesmo na gourmetização sofrida pelo evento com o passar das edições —, mas que, sempre que a data de divulgação do line-up se aproxima, acabam torcendo para que esse mesmo artista esteja presente entre as atrações confirmadas, pensando “Pô, bem que o Lolla podia trazer o Fulano…”.
Também há outro fator importante a ser levado em conta quando a abordagem está relacionada a festivais de grande porte em solo brasileiro. Hoje em dia, o Lollapalooza é mais do que um evento musical: é uma experiência. Se comparados os preços com outros eventos ao redor do mundo, a edição brasileira de 2019 tem valores praticamente idênticos ao Coachella, onde a música tem quase o mesmo peso que roupas, rostos, paisagens e aventuras instagramáveis. Mesmo que diversos fatores fossem corrigidos de maneira utópica — o acerto da questão da meia-entrada, o real 1 por 1 em comparação ao dólar, fim da tributação abusiva, artistas internacionais vindo ao Brasil uma vez por ano para tocar diante plateias de 500 pessoas, e a lista segue —, o Lollapalooza, assim como muitos outros eventos culturais, dificilmente diminuiria seus valores. Afinal, se as pessoas pagam todos esses reais cobrados, independentemente das circunstâncias, qual seria a razão para abaixar os preços? A realidade é clara: não há interesse algum da parte da Time For Fun em transformar sua galinha dos ovos de ouro do mundinho indie em um evento acessível, sobretudo em aspectos financeiros. Parte da magia do evento está relacionada ao seu fator de exclusividade, a venda imagética de um tipo de evento que não é para qualquer um. Peles alvas, guitarras em punho, tatuagens espalhadas pelo corpo e roupas alternativas da última estação vindas diretamente de um “brechó” estão longe da realidade brasileira. Fica claro para quem vê de fora que o Lollapalooza brasileiro não quer ser para qualquer um. E talvez essa seja uma das principais marcas do evento: o caráter de exclusividade, um tipo de originalidade que não é tão original assim, uma energia descolada que é friamente calculada em tudo o que diz respeito a si. E essa exclusividade vende. Afinal, bem lá no âmago, quem é que gostaria de ser igual a todo mundo?
Todos os elementos supracitados já são capazes de estabelecer uma base consolidada dos principais motivos que fazem festivais como o Lollapalooza serem tão bem-sucedidos em seus principais campos, do âmbito financeiro ao sociocultural. No entanto, há outra explicação relativamente plausível que também é capaz de justificar parte da obsessão do jovem brasileiro por festivais caros de políticas abusivas e vagamente exclusionários. Essa é uma teoria antiga, utilizada em diversos campos de estudo referentes ao comportamento social humano, e que se encaixa de forma assustadoramente precisa na relação complexa e instável de festivais de música e seus consumidores. Trata-se, afinal, da Síndrome de Estocolmo.
♦♦♦
Em 23 de agosto de 1973, dois ex-presidiários invadiram um banco em uma praça de Estocolmo, na Suécia, transformando quatro pessoas em reféns por quase uma semana. Essas vítimas acabaram criando simpatia por seus sequestradores durante o cárcere, consequentemente dificultando o trabalho da polícia na solução do caso. Quando liberadas, as mesmas vítimas se recusaram a depor contra os dois homens, e até mesmo se dispuseram a pagar as fianças penitenciárias de ambos; a partir deste caso, cunhou-se a ideia de “Síndrome de Estocolmo”, onde uma pessoa em situação de submissão desenvolve uma relação afetiva por seu dominador. Este tipo de relacionamento é tóxico por natureza, principalmente por se tratar de uma relação desnivelada, onde um elemento exerce poder sobre outro física e psicologicamente.
O fenômeno da Síndrome de Estocolmo é mais comum do que se imagina, sendo observado em uma série de dinâmicas socioculturais ao redor do globo. Embora possa parecer hiperbólico, talvez não seja completamente errôneo cogitar que este seja um dos cernes mais polêmicos do capitalismo e do ramo publicitário — e, consequentemente, de boa parte dos produtos que se utilizam de ambos os artifícios como meios de sobrevivência, tais quais os próprios festivais de música. Se, durante a década de 1990, crianças choravam ao pé da televisão para os pais ao verem um garoto qualquer empunhando uma tesoura de plástico e bradando provocativamente “Eu tenho, você não tem!”, a década de 2010 fez questão de explicitar que aquelas mesmas crianças já se encontravam no mercado de trabalho, e, anos depois, ainda dependiam das felicidades efêmeras que só o dinheiro seria capaz de proporcionar. São outros tempos, outros objetos de estudo, mas o sentimento é o mesmo: há um desejo urgente, uma necessidade latente reforçada por propagandas de pessoas sorridentes prometendo o melhor de toda uma vida, seja este melhor constituído por cortes precisos em uma folha de papel, seja ele constituído por música alta ecoando pelos alto-falantes de uma pista de corrida. É uma Síndrome sutil, que avança de forma voraz pelo corpo inteiro; quando se vê, são salários inteiros divididos em várias vezes no cartão de crédito, empresas milionárias ficando cada vez mais ricas, e o capitalismo selvagem entregando um novo exemplo de sua eficácia consolidada e cruel.
No entanto, dificilmente o capitalismo demanda algo sem entregar uma nova coisa em troca, embora o câmbio de oferendas nem sempre seja equivalente, como nos Amigos Secretos onde a pessoa que dá um colar de pérolas recebe um sabonete de glicerina. E deve se dizer que esta Síndrome de Estocolmo do fã indie não se dá sem qualquer tipo de fundamento, afinal. Neste tipo de situação, percebe-se que parte significativa dos frequentadores não joga dinheiro aos baldes porque está entediada, porque acha estimulante desperdiçar verdinhas, ou porque está interessada em financiar um potencial Jeff Bezos do mercado musical brasileiro; há uma motivação clara por trás, a tesoura de plástico do espectador de um festival, a verdadeira razão para que ele se desloque por dezenas, centenas ou milhares de quilômetros somente para apoiar um evento publicamente.
A tesoura varia de pessoa para pessoa: alguns gostam das ideias que permeiam os drinks de trinta reais, as fotos a serem publicadas nos feeds das redes sociais, os globais de óculos escuros a cinco ou dez metros de distância, parecendo relativamente acessíveis pela primeira vez na vida. Mas, verdade seja dita, este tipo de evento não sobrevive unicamente de cliques conceituais e comida cara vendida através de pulseiras cashless: é preciso ter música. A combinação de melodias, vocálicas ou produzidas (por instrumentos e por softwares), é de uma naturalidade inquieta no âmago humano, cercada por um instinto contemporâneo de cabelos ao vento e pés fora do chão. Mesmo que haja um tipo de consciência coletiva de todos os elementos negativos que permeiam festivais como o Lollapalooza e o Popload, estes eventos ainda terão público, pois inegavelmente cumprem com o principal mote que vendem em suas publicidades: são, afinal, plenamente capazes de proporcionar o frio na barriga, as lágrimas escorrendo ao som da música favorita e os gritos incompreensíveis, roucos de tanto cantar, sob o som alto de baterias, baixos, guitarras e microfones. E enquanto houver música, ainda haverá um espetáculo.
É um longo caminho a ser percorrido: baldes de dinheiro extraídos da conta bancária, viagens intermináveis até pistas de corridas no extremo sul de uma metrópole, insolação, água a seis ou oito reais, pisões no pé, cabelos puxados, dor nas costas e nos joelhos e onde mais o corpo permitir. Mas aquele é sempre um dos grandes momentos de toda uma vida (ou de duas vidas, ou até de três), um pequeno-grande Woodstock gourmetizado em solo brasileiro, recheado de momentos efemeramente históricos. Com tantas boas memórias, artistas do peito (mesmo que eles nem sejam tão bons assim), vídeos tremidos na galeria do celular e a iminente sensação de que compensaria fazer tudo aquilo de novo e de novo, fica muito difícil dizer não ano após ano.
No final, o ser humano é muito mais complexo do que se imagina; suas paixões e decisões são um reflexo meticuloso disso. Curiosamente, é somente a partir de um fenômeno como a Síndrome de Estocolmo que se nota de maneira evidente a presença de tantas matizes em um único contexto — e, em consequência, a existência de tantas soluções distintas (e, em alguns casos, impraticáveis) para problemas e dilemas causados pelo efeito Lollapalooza.
♦♦♦
Não existem respostas certas ou erradas quando o assunto está relacionado a festivais de música indie no Brasil. Alguns podem afirmar que os fãs de festivais nestes formatos são indivíduos alienados, sem qualquer tipo de discernimento, deslumbrados o suficiente para gastarem quantias que sustentam famílias inteiras em um único dia. Talvez não seja uma mentira completa, mas existem mais camadas a serem discutidas do que a superficialidade de certo ou errado. Ao contrário do que pensa o senso comum, não há no mundo qualquer tipo de maniqueísmo puro, sobretudo em campos financeiros e culturais. Lollapalooza e Popload não são eventos compostos por mocinhos e vilões, vítimas e réus, mas por pessoas em plena capacidade de tomarem suas próprias decisões e arcarem com as consequências de seus atos, sejam eles em maior ou menor grau.
Algumas soluções são mais simples do que outras. Poderia se dizer que, após tanta exposição digna de “cancelamento”, o plano mais viável seria ensinar estes festivais que ações moralmente incorretas não passarão impunes. Mas e os clicks do Instagram? E aquele artista fantástico que está vindo ao Brasil pela primeira vez em vinte e quatro anos de carreira? E todas as desventuras, todas as letras de música cantadas incorretamente, todos os momentos positivos que festivais como estes são capazes de proporcionar? A realidade é muito mais profunda, abraçada por uma série de nuances difíceis de abarcar através do “sim” ou “não”. Certas coisas não possuem manual de instrução; optar por frequentar ou não frequentar festivais de músicas com políticas questionáveis é uma delas.
Em situações como essas, deve-se dizer que não importam os finais, desde que se conheça bem os meios. É necessário ter plena consciência dos próprios atos e das próprias decisões, começando por compreender com precisão aquilo que você consome. O mundo se encontra na era da informação; que isso seja aproveitado abundantemente, afinal. Sabendo de tudo o que é necessário saber envolvendo um determinado produto — uma marca de roupas que paga 0,01 centavo por peça feita por costureiras do Sudeste Asiático, uma marca de produtos para cabelo que faz testes em ovelhas, um festival que leva pessoas em situação de vulnerabilidade da Sé à Interlagos e faz elas construírem palcos gigantescos por troco de pão —, fica a encargo do cliente tomar sua própria decisão. O resto é consequência.
Texto enviado por Maria Carolina Ferreira. Conheça a autora nas redes sociais: Twitter & Instagram